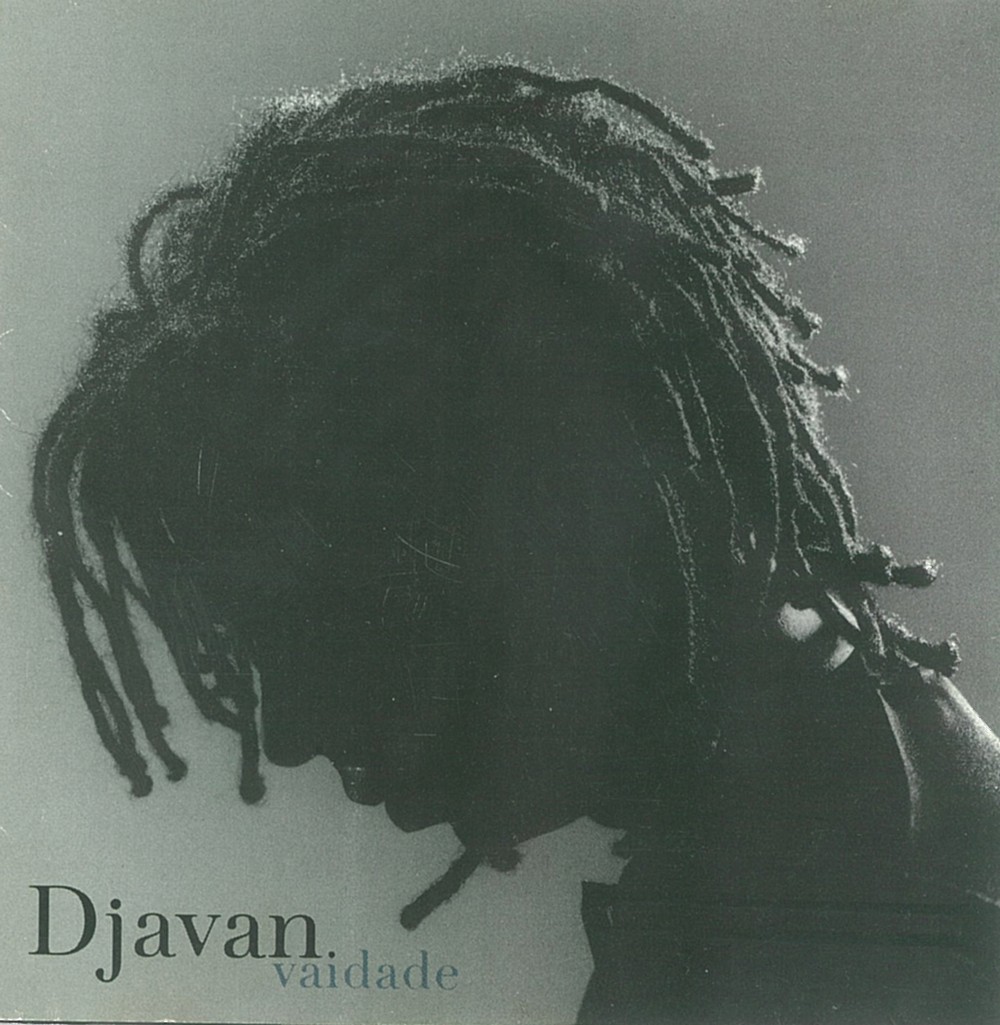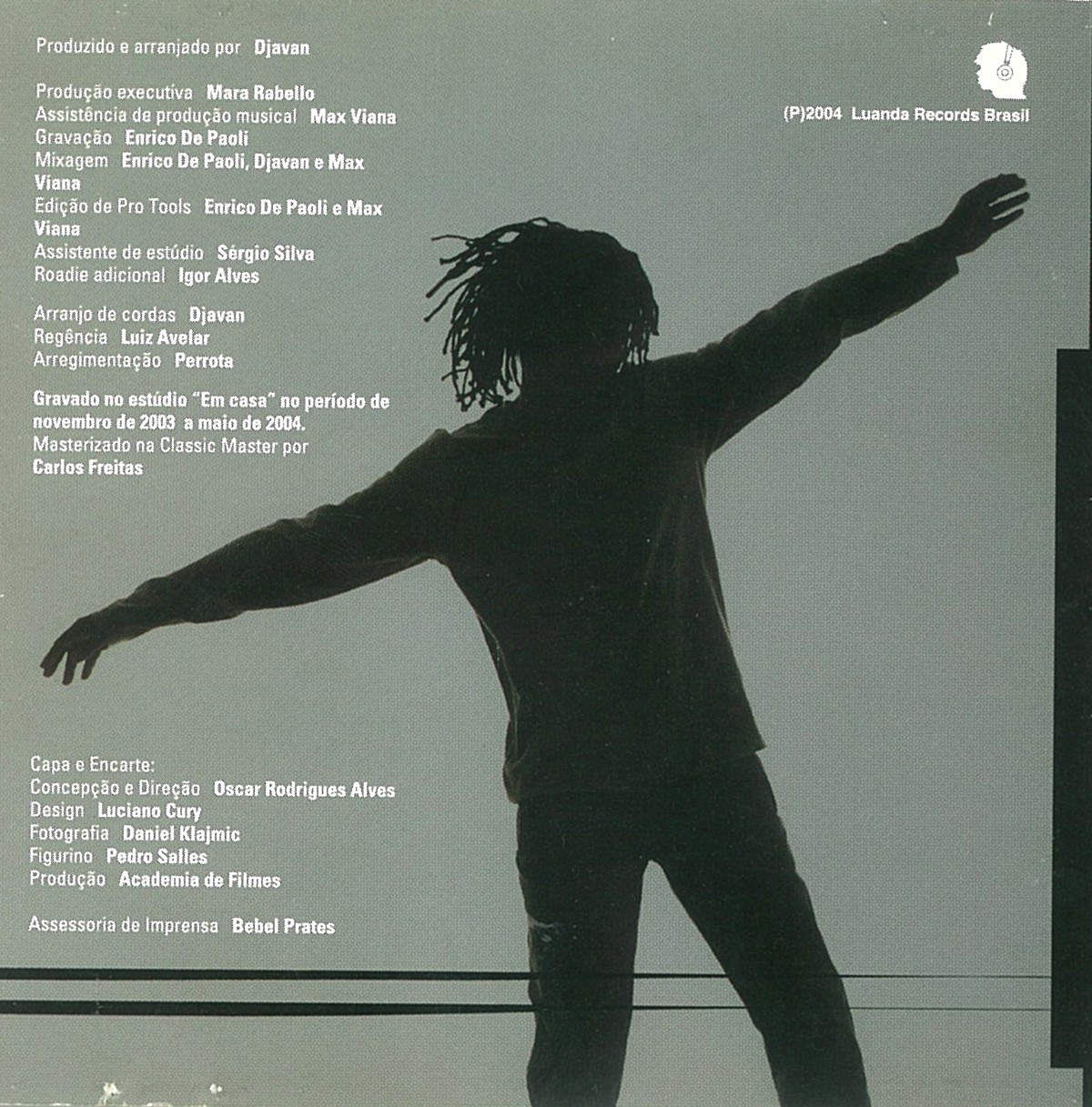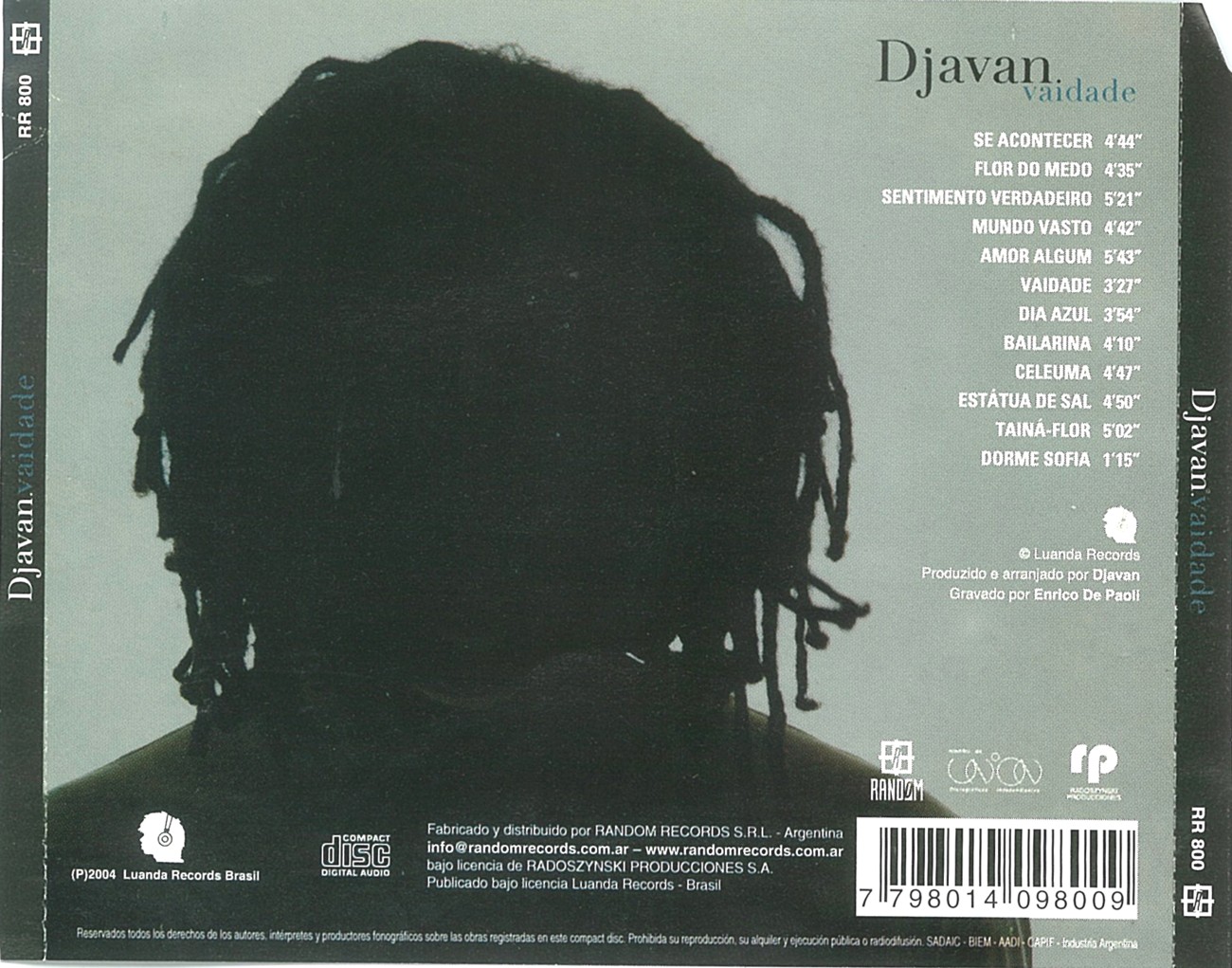Beyond the Red Mirror é o décimo álbum da banda, e apresenta um conceito com relação direta ao clássico Imaginations from the Other Side (1995). Envolvendo realidades paralelas, fantasia e ficção científica em proporções épicas, é o primeiro desde At the Edge of Time (2010) e foi lançado pela Nuclear Blast no último dia 30 de janeiro, mantendo a tendência extremamente rebuscada e dramática dos últimos trabalhos.
Imagine-se sobrevoando uma paisagem que se estende por muito mais do que a vista alcança. Campos, vilarejos, lagos, montanhas, florestas, reinos, tudo é apresentado pelo coral de “The Ninth Wave” enquanto o sol se põe. Mas muito mais do que isso, esse universo também é formado por seres vivos, humanos e criaturas, política e fantasia, uma frágil paz, intrigas e revoluções complexas sobre um pano de fundo equilibrado de forma tênue entre o power metal no formato que apenas o Blind Guardian faz, a interpretação operística e os arranjos orquestrais com mais importância do que nunca.
“Twilight of the Gods” traz o abandono final dos deuses, uma combinação dos momentos mais épicos do At the Edge of Time com a sempre remanescente herança dos tempos de salões crepusculares e lugares distantes. O anúncio de tempos negros que estão por chegar ressoa em “Prophecies” através das dimensões ligadas pelo espelho na forma do híbrido entre o dinamismo musical recente dos alemães e a aura carregada de Nightfall in Middle-Earth.
A confusão incompreensível das visões em “At The Edge of Time” apresenta uma banda completamente orquestral, uma narração literal e musical que dá prosseguimento à história de forma muito mais grandiosa e funcional do que já havia sido apresentado em “And Then There Was Silence” ou “Wheel of Time”, com profundidade que a torna peça singular em toda sua trajetória. E tratando-se em singularidade, “Ashes of Eternity” remete a A Twist in the Myth com uma roupagem menos palatável e mais intrigante, em ritmo marcial que remete diretamente às tragédias, campos de batalha e consequências do desenrolar do conceito.
O momento da última luta e do sacrifício vem em “The Holy Grail”, o derradeiro suspiro do personagem é uma reverência a Imaginations From the Other Side e tudo o que levou a este momento, os ritmos frenéticos, de andamentos e mudanças de margens pouco definidas, mas sempre acompanhadas por aquela melodia extremamente característica. A ascensão rumo ao clímax épico continua com “The Throne”, praticamente um musical complexo, uma peça artística que depende de inúmeros fatores para funcionar da forma devida. Muito semelhante aos momentos mais diversificados e interpretativos de A Night at the Opera, trabalha em prol da narrativa de forma que apenas os bardos conseguem fazer.
“Sacred Mind”, com sua letra corruptiva seria uma personificação do que poderia ter acontecido com o som do grupo em uma dimensão paralela, onde eles se enveredaram pela progressivo antes de terem se desgarrado tanto de suas influências primordiais, e talvez por isso remeta ainda mais àquela época mais crua. A balada “Miracle Machine”, conduzida pelo piano e acompanhada de um sutil arranjo orquestral, traz aquela reverência ao Queen, facilmente a mais marcante e com mais potencial composição do tipo desde o clássico intocável “The Bard’s Son – In the Forest”. Simples e no momento certo, precede o encerramento megalomaníaco de “The Grand Parade”, um epílogo digno de uma produção monumental em seus riquíssimos nove minutos.
Independente se o power metal se tornou obsoleto em um mundo cada vez mais preocupado com a brutalidade da realidade, em que as pessoas parecem ter criado prioridades vazias e perderam o tempo para simplesmente pensar e imaginar. Independente se hoje todos aqueles coros, orquestras, dragões, reinos, espadas lendárias e guerras heroicas não passam de uma nostalgia agradável, uma lembrança de uma época de nossas vidas em que as coisas pareciam mais simples. Independente que tenhamos ficado mais velhos e desbravado outros mundos musicais universo afora. Algumas bandas continuam sendo de alguma forma relevantes para sempre, e o Blind Guardian é uma delas.
Em Beyond The Red Mirror os alemães não apenas agregam de forma equilibrada praticamente todas as influencias que os acompanham ao longo destas três décadas de atividade (impossível não citar os álbuns a cada música analisada), como depois de todo esse tempo permanecem criativos dentro de sua proposta, intencionalmente agregando elementos que tornam a sua música algo cada vez mais completa e grandiosa dentro da conhecida singularidade, marcada por uma interpretação e uma dramaticidade que há muito não se ouvia.
Não apenas por conta dos arranjos orquestrais, muito mais reais e desempenhando papel mais importante do que nunca, e da noção de fugir das supostas amarras que o estilo havia ficado preso em seu ápice de saturação, mas também por todo o cuidado em escrever um conceito interessante, uma coerência entre cada uma das faixas e esmigalhar os limites entre suas dimensões de forma que cada segundo seja riquíssimo e inesperado.
O único porém permanece com relação à produção, novamente abafando o trabalho do percussionista Frederik Ehmke em detrimento das infinitas camadas de vozes e guitarras, tirando parte considerável do potencial em diversos momentos do álbum, principalmente no que diz respeito ao peso necessário para determinadas passagens. E infelizmente parece ter se tornado um vício difícil de ser corrigido.
Em todo caso, estamos diante de mais um capítulo de um legado histórico de clássicos indubitáveis da música, uma evolução que permanece intrigante e em ascensão a cada novo trabalho, explorando novos caminhos por um labirinto de espelhos que, se confuso no início, aos poucos se torna o seu próprio reino, de múltiplos e infinitos reflexos dentro deste mundo.
Um mundo onde o Blind Guardian reina sozinho.