Let It Be não é o melhor disco dos Beatles, longe disso. Mas talvez seja o mais verdadeiro. Vulnerável como uma ferida aberta. Contraditório como a própria vida.
Estamos em Janeiro de ’69 e a melhor banda de sempre está prestes a desintegrar-se. John, a fera de outrora, é agora um peixe mudo, entorpecido pela heroína e pela languidez de Ono. O místico George, por mais que tente dissipar a sua raiva com quilos de meditação transcendental, está a um passo de esmurrar os sempre ufanos Lennon e McCartney. Até o patinho feio Ringo anda com a cabeça longe, sonhando-se já cisne nas telas de cinema. Só Paul, o eterno “beatleholic”, faz o possível e o impossível para manter a banda intacta. Desde que o manager Brian Epstein partira dois anos antes, o leme passara para as suas mãos. De ideia peregrina em ideia peregrina até ao estertor final.
A sua proposta parecia boa em teoria: regressar às origens rock’n’roll da banda, fazendo um filme-concerto e um disco de estúdio gravado ao vivo sem truques de produção. Esta reacção ao artifício da fase Sgt. Pepper’s era, no fundo, um aprofundamento do caminho iniciado no White Album. Acontece que enfiar quatros hamsters zangados no mesmo estúdio de cinema esconso – com todos os seus passos permanentemente vigiados por câmaras de filmar! – talvez não fosse, afinal, a coisa mais sensata a fazer. Harrison abandonou mesmo o barco durante uns dias porque, reza a lenda, Yoko comera as suas bolachas. O autor de “I me mine” impôs condições para o seu regresso: mudarem-se para o conforto do seu próprio estúdio (acabadinho de estrear na cave da Apple); e usarem o teclista Billy Preston como amortecedor de más vibrações. George voltou mas nunca muito longe dos seus biscoitos…
Seja como for, tudo culminou num dos mais icónicos momentos dos Beatles, com o célebre concerto ilegal no telhado dos seus escritórios, terminado abruptamente pela polícia. Mas a falta de carinho investido pela banda no projecto fez com que Let It Be fosse sucessivamente adiado (de tal maneira que lançariam no entremeio o muito mais investido Abbey Road). O engenheiro de som Glyn Johns por duas vezes propôs misturas para o disco. Por duas vezes os Beatles as recusariam.
Até que Lennon, cansado das delongas, e à revelia dos outros Beatles, leva as fitas para o seu amigo Phil Spector resolver. Se o excêntrico produtor teve o mérito de finalmente desencalhar o raio do disco, a sua produção pomposa – saturada de cordas melosas e de exuberantes coros femininos – não só traiu o espírito espartano pretendido, como atraiçoou, no fundo, todo o legado dos Beatles. Afinal de contas, os arranjos sóbrios e elegantes de George Martin sempre se definiram por oposição ao mau gosto hiper-romântico dos Phil Spectors da vida.

Pelas suas contradições, e notória displicência, Let It Be é o seu disco mais fraco desde Beatles for Sale. “The Long and Winding Road” já era aborrecida à nascença mas Spector acrescentou-lhe novas camadas de sentimentalismo xaroposo, que envergonhariam a própria mãe de Paulo Gonzo. A canção tradicional “Maggie Mae” e o regabofe colectivo “Dig it” são consentâneos com o espírito fragmentário do álbum mas não deixam de ser completamente irrelevantes. Da mesma forma, por mais cativantes que sejam a folky “Two of Us” e a bluesy “For You, Blue”, a verdade é que estão abaixo do génio melódico a que os fab four nos habituaram.
Há, porém, diamantes perdidos no lamaçal. É o caso dos três temas gravados no próprio concerto do terraço (“I’ve Got a Feeling”, “Dig A Pony” e “One After 909”), cuja vitalidade eléctrica e selvagem cumpre o tal desígnio do retorno às raízes. A última, um delicioso pastiche de Chuck Berry, foi, aliás, escrita por John e Paul na adolescência, num tempo feliz em que não tinham vontade de apertar o pescoço um ao outro. Já a pungente “Don’t let me down”, apesar de ser uma das malhas mais fortes do concerto, foi excluída do álbum por Spector. Que apodreça na prisão pelo infame crime.
A balada meio gospel de “Let It Be” tem uma daquelas melodias bonitas que sempre existiram desde o início do mundo, estava apenas à espera que alguém a colhesse. “Get Back” é um clássico instantâneo, miúdos do norte de Inglaterra rockalhando à sul profundo. E nem os arranjos pavorosos de Spector conseguem beliscar a beleza mística de “Across the Universe”, um dos temas mais bonitos de Lennon.
Let It Be não é o melhor disco dos Beatles, longe disso. Talvez seja, porém, o mais verdadeiro. Vulnerável como uma ferida aberta. Contraditório como a própria vida. Charles Manson manchando de sangue as flores no cabelo.
Quando a própria inocência da década chegara ao fim, não conseguimos imaginar melhor epílogo para a banda que inventou os anos 60.
.jpg)

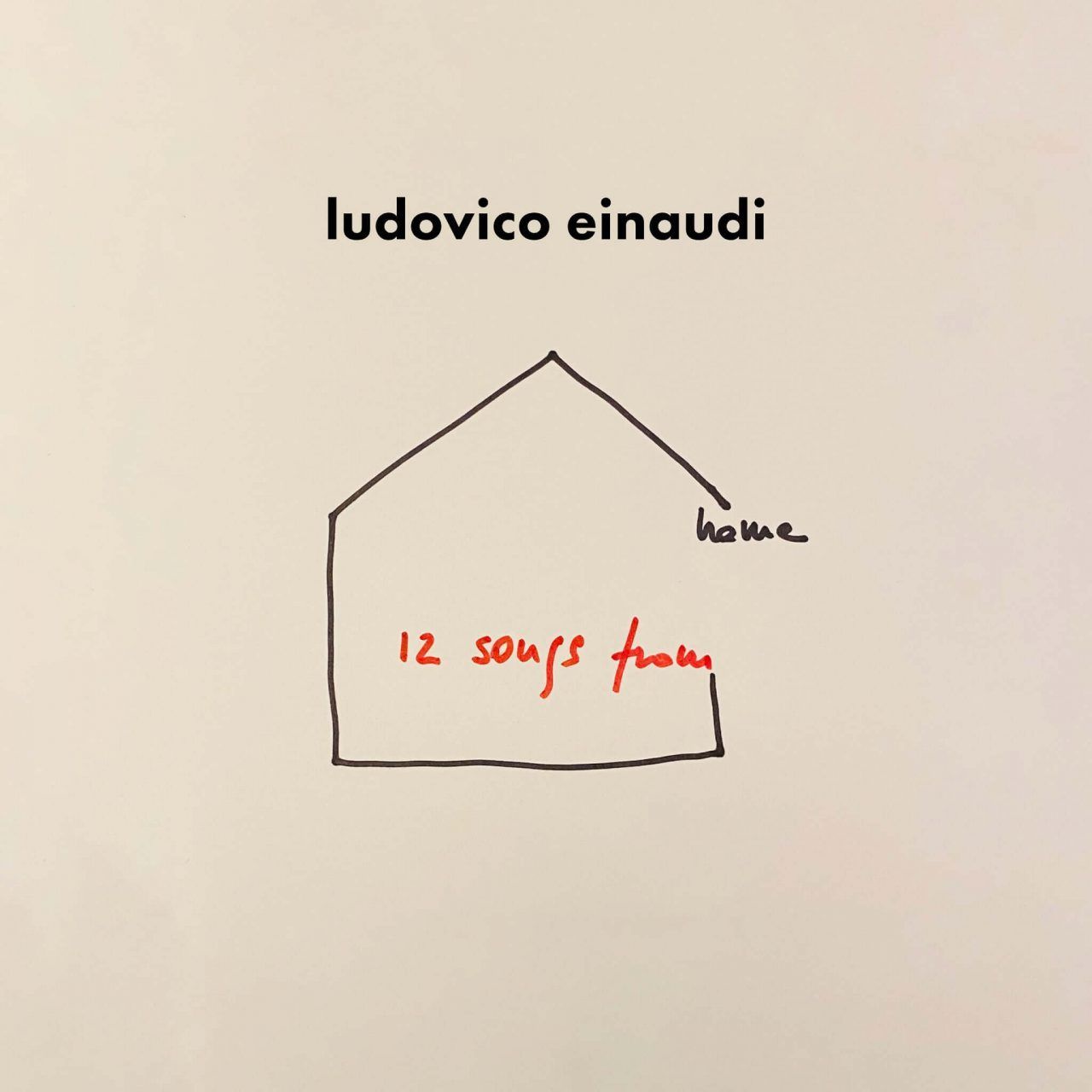

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
