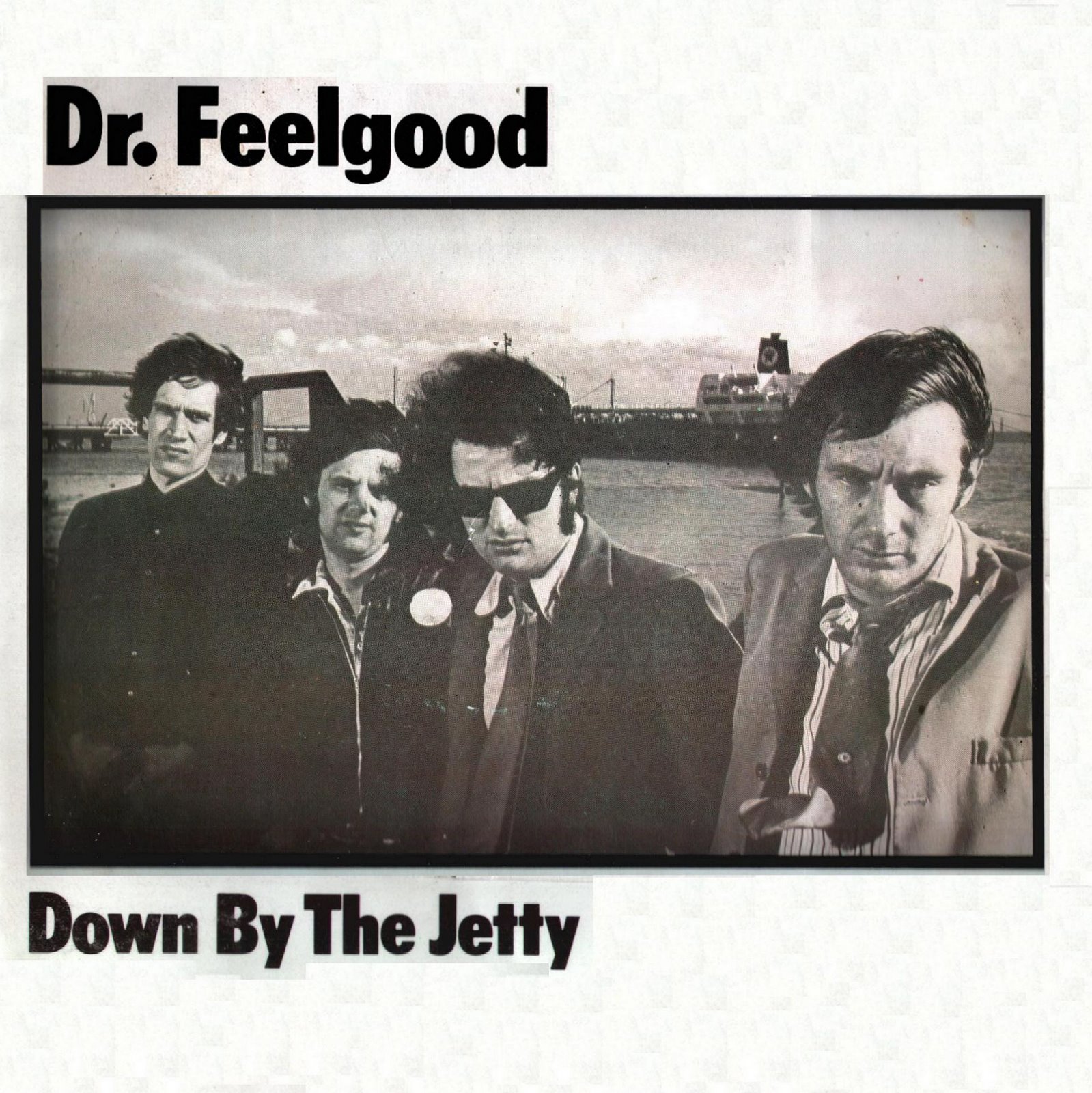Jim Jones All Stars mais uma vez nos presenteia com sua intensa, eletrizante e inspiradora fusão de rock'n'roll, garage rock, rhythm and blues visceral e gospel, através do lançamento de seu novo álbum ao vivo, Get Down ~ Get With It . E não há dúvidas de que esta coleção de músicas eletrizante e explosiva documenta perfeitamente o som de uma banda pioneira na revitalização do espírito do rock'n'roll, elevando-o a um novo patamar sem precedentes.
Jim Jones All Stars mais uma vez nos presenteia com sua intensa, eletrizante e inspiradora fusão de rock'n'roll, garage rock, rhythm and blues visceral e gospel, através do lançamento de seu novo álbum ao vivo, Get Down ~ Get With It . E não há dúvidas de que esta coleção de músicas eletrizante e explosiva documenta perfeitamente o som de uma banda pioneira na revitalização do espírito do rock'n'roll, elevando-o a um novo patamar sem precedentes.
Tudo começou em 2022, quando as primeiras sementes para o novo projeto de Jim Jones foram plantadas com a gravação de novas músicas em Memphis, resultando no lançamento do primeiro single, It's Your Voodoo Working, em outubro daquele ano. Isso anunciou o nascimento do Jim Jones All Stars…
…e era hora de o mundo acordar novamente e prestar atenção. Uma série de shows ao vivo se seguiu, enquanto essa intensa e energética parede de som trilhava um caminho implacável por águas desconhecidas, com seu álbum de estreia, Ain't No Peril, chegando em gloriosa tecnicolor sonora em setembro de 2023 para consolidar ainda mais sua posição no epicentro do mundo do rock'n'roll.
Avançando para 2025, após algumas apresentações de abertura de prestígio para bandas como The Black Crowes e Ginger Wildheart, temos agora o lançamento do álbum ao vivo Get Down ~ Get With It, que documenta suas performances ao vivo dos últimos anos. Como Jim explica: “Get Down ~ Get With It é um marco que representa o momento atual da banda e uma forma bacana de encerrar este capítulo antes do lançamento do nosso segundo álbum em 2026.”
Como Marc Riley tão acertadamente destacou durante uma das sessões do All Stars na BBC Radio 6, Jim Jones tem "uma certa reputação" de "sempre estar em uma das melhores bandas de rock'n'roll por aí". Isso continua tão verdadeiro quanto sempre foi com esta nova banda, que combina a energia bruta de Little Richard daquela era clássica do rock'n'roll com a pegada forte e poderosa de bandas como MC5 e Stooges, além de infundir uma boa dose de soul. Jim é um artista que sempre esteve imerso nas tradições do rock'n'roll old school, com uma atitude que transparece em sua presença de palco sempre imponente, e não há dúvida de que isso brilha intensamente neste excelente álbum ao vivo.
Assim que a agulha toca o primeiro sulco, ouvimos a banda entrar no palco em meio a uma cacofonia de ruídos: a bateria martela, os saxofones gemem, os teclados cintilam e as guitarras rugem, com Jim exclamando "Get down, get with it!" e o saxofonista tenor Stuart Dace anunciando sua chegada. O impacto é imediato e intenso, dando-nos uma prévia do que está por vir na próxima hora, enquanto a batida estrondosa de "Cement Mixer" lança um deslizamento sonoro nos cantos mais obscuros de nossa mente. Essa explosão épica de batidas e movimentos frenéticos impulsiona a performance como um rolo compressor e, sem quase nenhuma pausa para respirar, ouvimos Jim declarar "Ain't no smoke without fire" enquanto a guitarra saturada de fuzz de Carlton Mounsher e o turbilhão de dedos frenéticos no teclado de Elliot Mortimer anunciam mais um clássico da Revue: "Burning Your House Down".
A visceral e envolvente "Gimme The Grease" mantém os saxofones pulsantes de Stuart Dace e Tom Hodges em destaque, enquanto Aidan Sinclair na bateria e Gavin Jay no baixo controlam o ritmo monstruoso, com a vibe funk e soul em plena potência. Temos apenas um breve momento de respiro com a faixa "Parchman Farm", conduzida pelo piano e que se inspira na batida bluesy e arrastada de Bukka White, que remonta aos anos 40, com Stuart novamente assumindo a liderança no sax tenor antes de explodir em um final apoteótico.
A nova música "Let You Go" tem uma pegada vintage autêntica, transbordando energia e alma enquanto oscila entre as guitarras e os saxofones, trazendo-a inevitavelmente para o presente, vibrante e pulsante. Essa energia se mantém em "Goin' Higher", onde Jim ataca com uma energia e força desenfreadas que simplesmente não podem ser ignoradas, enquanto grita "levante as mãos contra a parede" – e nesse clima, quem vai discordar?! Com os teclados levados ao limite, é mais uma jornada selvagem que muda de marcha em sua passagem final, com os saxofones gemendo e os grooves profundos se enraizando completamente na sua alma.
Soul Trader segue uma linha similar, revisitando o repertório do Thee Hypnotics e acelerando a todo vapor nessa implacável mina de rock'n'roll com influências de garagem. Se você ainda não está curtindo, é porque realmente não prestou atenção! Os ritmos fragmentados de I Want You (Any Way I Can) se transformam em um clássico cativante de Ain't No Peril, enquanto Carlton e Jim trocam solos de guitarra em meio à batida precisa impulsionada pelo baixo e pela bateria, com os teclados de Elliot em destaque. A essa altura, dançar não é uma opção, é uma necessidade, não importa onde você esteja ouvindo este álbum.
Troglodyte exala o groove monstruoso do rock sujo e funky das cavernas nesta versão de uma música do Jimmy Castor Bunch do início dos anos 70, com toda a banda em total comunhão com a barulheira profana que se segue à medida que a música se aproxima do fim. Após uma breve pausa com os saxofones repletos de soul que permeiam a melancólica Lover's Prayer, os All Stars não perdem tempo e retornam à total sobrecarga sonora enquanto Aidan nos leva ao lado sombrio de nossas mentes com uma versão abrasadora de Rock'n'Roll Psychosis, do Revue, antes de Elliot nos conduzir a uma interpretação frenética da épica Princesa e o Sapo. Este é realmente o ponto alto do show, que não dá desculpas e não faz prisioneiros.
Shakedown é um clássico épico do garage rock psicodélico, mais uma vez do repertório do Thee Hypnotics, com sua mistura incendiária de tudo o que havia de melhor em bandas como MC5, Stooges e The Cramps, tudo reunido em uma combinação febril e fervorosa. E não para por aí, já que o clássico dinâmico e com influências de garage rock de Eddie Floyd, Big Bird, agita ainda mais o público com seus ritmos de guitarra pulsantes, linha de baixo marcante e metais selvagens, antes do show chegar a um final memorável com uma versão incendiária de 512, da banda Revue.
Jim Jones All Stars é uma força imparável que oferece um show ao vivo explosivo, e este álbum ao vivo prova, sem sombra de dúvida, que essa formação expandida permite à banda ampliar seu som e mergulhar mais fundo no legado de Memphis e Nova Orleans, dando às músicas mais alma, ritmo e profundidade do que nunca, sem perder nada da intensidade e ferocidade de suas raízes no rock'n'roll. Mas não se engane, Jim Jones All Stars não é uma viagem nostálgica. Get Down ~ Get With It é um ataque sonoro completo que anuncia um verdadeiro renascimento do espírito do rock'n'roll, celebrando o glorioso legado que alimenta a música, ao mesmo tempo que a redefine no século XXI e a eleva a um nível totalmente novo e sem precedentes.